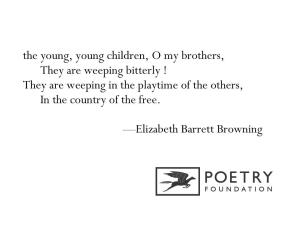Em breve, chega às livrarias o novo livro da poeta Mariana Ianelli (O amor e depois, Iluminuras), de quem sou leitora e admiradora. Abaixo, o texto que tive a honra e o prazer de escrever para a orelha do livro.
Em breve, chega às livrarias o novo livro da poeta Mariana Ianelli (O amor e depois, Iluminuras), de quem sou leitora e admiradora. Abaixo, o texto que tive a honra e o prazer de escrever para a orelha do livro.
—
Conheci a poesia de Mariana Ianelli através de seu livro Fazer silêncio, cujo título já de saída me conquistou: essa exortação, num mundo extrovertido, um mundo compulsivamente loquaz e de ruído em excesso, parece mais do que atrevida: é revolucionária, talvez. Será possível, então, uma espécie de escrita silenciosa? Esta jovem poeta de mão segura confirma que sim. O silêncio está muitas vezes atrelado a uma frequência íntima de reflexão, de contemplação, de espera e temperança, qualidades que encontrei na poesia de Mariana. Uma poesia que não sobra, que não vaza, nem mesmo quando deslumbra.
Na primeira oportunidade me lancei a seus outros livros já publicados, até ter o privilégio de ler os originais de O amor e depois. Encontrei aqui o mesmo cuidado com as palavras que, como disse Jair Ferreira dos Santos, “é severo mas não exclui, antes reforça, a espontaneidade.” Uma “dicção ao mesmo tempo culta, comovente e perturbadora,” como quis ainda Antonio Carlos Secchin.
A língua é companheira de Mariana, é um instrumento que ela usa com a habilidade dos mestres. E como todo mestre, ela renova sua arte. Seus versos, que passam longe do exibicionismo formal e são antes o peneirar do ouro no rio, trazem imagens como o “halo de majestade / dos tigres à beira da extinção,” no belíssimo “Tigres brancos,” ou confirmam: “O amor, até o amor existe, / “Um lunático mendicante que vadia pela terra / À espera de outra chance.” (“Miragem”).
Mas ela é uma artesã cuja poesia nunca revela a costura. O domínio incomum que Mariana tem da escrita nos faz acreditar que, afinal, não há esforço no esforço que seguramente empenhou ali. E o tempo todo sua poesia silenciosa mas possante como poucas na cena contemporânea exorta que nossos olhos “estejam vivos e curiosos (…) / E olhem para dentro alguma vez / E o que vejam / Seja alguma força de sequóia / Presa à terra desde o império de outros tempos” (“Os teus olhos”).
Estaremos à altura da tarefa? Aí está o desafio lançado por Mariana Ianelli. A satisfação que foi para mim a descoberta de sua obra, há alguns anos, vem agora se aliar à alegria de reencontrá-la neste O amor e depois, sempre surpreendente, e absoluta senhora do seu ofício.
Não me restam dúvidas de que estes versos vazados pela temática do amor (e do seu fim, e do que vem depois) – mas não apenas isto – exigem que eu seja uma leitora competente, de olhos e ouvidos atentos. Mas só tenho a ganhar com isso. Pois, como lembra o poeta e editor americano Christian Wiman, acercamo-nos da poesia “para poder habitar de modo mais completo nossas vidas e o mundo em que as vivemos – e para que, sendo capazes de habitá-los mais integralmente, sejamos talvez menos aptos a destruí-los.”
 O tempo das coisas passa. Passou o do blog também, mesmo com a tentativa de reanimá-lo há alguns meses.
O tempo das coisas passa. Passou o do blog também, mesmo com a tentativa de reanimá-lo há alguns meses.